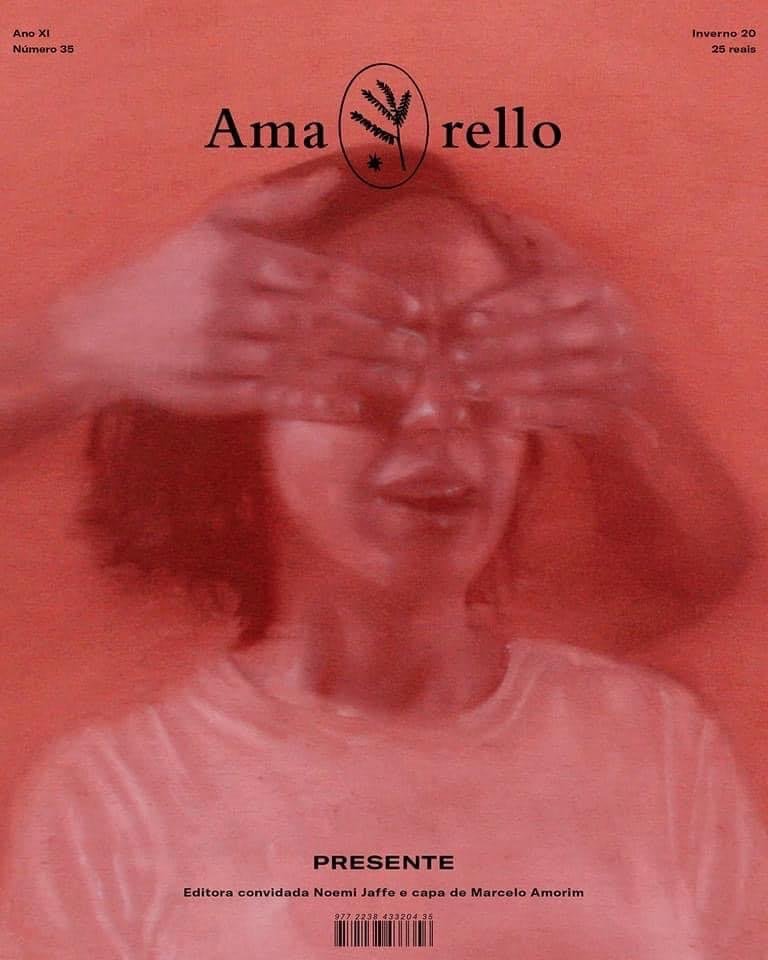Conto “Memória do vítreo”, revista Ventana Latina
Nesta edição de Ventana Latina publicamos Francesca Cricelli, um dos nomes de destaque da literatura brasileira contemporânea. Reconhecida por seu poemário Repátria ela também se destaca por suas instigantes contribuições em revistas literárias brasileiras e por sua carreira internacional representando o Brasil em diversos festivais internacionais. memória do vítreo, texto inédito da autora, pode ser lido tanto como conto independente quanto como o embrião de seu próximo romance. Abordando temas como identidade, pertencimento e territorialidade Cricelli, ora em chave autoficcional ora com o olhar arguto de cronista, nos presenteia com sua narrativa sobre o que é habitar o mundo.
Em prosa que deixa transparecer o seu talento poético, passeia por diferentes espacialidades como Pequim, Reykjavík, o sul da Itália e o interior do Brasil incorporando esses territórios como cenários e personagens de suas experiências. Em Pequim, por exemplo, a pergunta sobre onde se habita no mundo aparece através da percepção pueril da criança que vai com o pai ao campus universitário contar os patos da lagoa, e sentindo falta de alguns deles pergunta-se sobre onde eles estariam se não estão mais alí. Já no sul da Itália dos anos 1990 a mesma pergunta ganha dimensões sociais e políticas quando a autora rememora sobre os primeiros momentos da família de emigrados de classe média que sairam do Brasil durante o governo Collor.
Porém, sua narrativa também aborda outros tipos de construção de identidades e pertencimento como a parental e o fraternal, no momento em que Cricelli apresenta reflexões sobre a neta e o avô em seus últimos dias de vida, momento no qual ela se sente impelida a dar-lhe amor e carinho que nem mesmo ela acredita possuir e que tanto faltou a ele durante a vida, construindo-se como personagem de si mesma.
Deve ser o vítreo e não é tão grave se for um descolamento de vítreo. É preciso controlar essa retina, sobretudo sua periferia; ver se não se rasgou carregada pela queda do líquido. Desligava-me da voz do Dr. Negrão. Os olhos fechados, o telefone entre as mãos. Os olhos fechados somados à luz intensa refletida sobre a estrada rumo ao interior. A estrada costeada por uma terra vermelha e um mar verde de cana de açúcar. As pálpebras em descanso e a luz do sol a enrubescer a vista. À direita uma coroa luminosa de espinhos, auréola disforme de luzes, e o lampejo descontínuo que havia desfocado as letras que compunham a fala de Daniel, personagem de Agualusa em A sociedade dos sonhadores involuntários durante a viagem.
Deitada no escuro com a lâmpada apontada no centro do olho, perdia o sentido de localização e a percepção do tempo, entre a ausência e o excesso de luz, agarrava-me à voz martelante da retinóloga, seguia suas instruções para não ceder espaço às divagações e fantasias. Mantinha-me ocupada deslocando rapidamente o olhar em direção aos pontos cardeais. Percorremos, durante a consulta, a eternidade que separa um olho do outro, uma retina da outra. No escuro sob a luz inquisidora estávamos à procura de um rasgo, algum sinal de inaderência. E eu movia pendularmente os globos fatigados — de um lado ao outro —.
Estava salva. Era só o vítreo. Desprendido pelo curso natural da miopia ou pela falta precoce de colágeno, o vítreo havia cedido. E na queda milhares de partículas dançavam no globo ocular. Uma bola decorativa com purpurina nevada, o olho direito. Descolava-se o vítreo e com ele expunha-se o desarranjo da memória. Eu já não ouvia a voz da Dra. Letícia, mas via entre seus dedos, entre suas unhas esmaltadas, a reprodução de um olho em resina e milhares de partículas desorientadas nadando dentro da maquete.
***
Hu Xudong carrega em sua mochila uma vasilha de plástico com ração para gatos. Toda manhã, enquanto atravessa o campus da Universidade de Pequim, onde leciona, antes de começar o seu dia de trabalho, visita os bichanos que vivem soltos entre as árvores e pedras daquele jardim infinito. Sob as pessegueiras floridas, atrás dos chorões à beira do lago, entre as colunas dos prédios da administração. Quando nasceu sua filha, teve de arranjar outra moradia para o felino doméstico e desde então mantém uma relação livre e proveitosa com os gatinhos do campus. Todos os dias após as aulas Hu leva a filha até o lago para contarem quantos patos estão por lá. A pequena mantém uma contabilidade sobre as penas e bicos e todos os dias observa quantos a mais ou a menos deslizam sobre as águas. Onde estarão os que hoje faltam?
Os gatos da Universidade de Pequim são tão diferentes dos de cá que vivem trancafiados com seus donos em apartamentos, alguns espiam tristonhos pelas redes de proteção e às vezes, à noite, entoam um lamento solitário. Os gatos do campus da universidade de Pequim são gordos e têm o pelo grosso, sujo, a cara redonda – movem-se lentamente como antigas deidades. Há algo oracular em seus olhares. Na Islândia também são robustos os gatos, altivos e coloridos, caminham livres e encoleirados por toda Reykjavík. São destemidos e dados, aproximam-se à procura de pernas para enroscar seus rabos. Não é preciso ter ração à altura das mãos para conquistar um gato islandês.
***
Com o tempo a purpurina óptica assentaria na base do olho feito areia numa clepsidra. Havia de aprender a conviver com as caudas coloridas que atravessavam-me a vista. Conviver com a poeira de dentro.
***
Era dezembro de 1991 e mudamo-nos para a Itália. Quiçá em fuga da crise econômica e política, quiçá em fuga por outros motivos. Nunca há uma única razão, costumam se misturar os fatores até perder-se o fio e não haver mais uma resposta clara quando alguém lhe pergunta: por que foram embora? Eu tinha nove anos, o limiar da idade para a aquisição de uma segunda língua com a mesma valia da língua mãe, dizem. Será? Ainda que as motivações complexas da migração familiar escapassem à garotinha de nove anos, mantinha-me orgulhosamente em pé relatando a flutuação dos índices de inflação da era Collor. Eloquência que provocava diversão e espanto no rosto dos
pais de alguns coleguinhas.
Eu fui na frente com o pai, a mãe seguiu dois meses mais tarde, em fevereiro de 1992. Esperamos pela sua chegada no aeroporto de Fiumicino com um maço de flores campestres e um carro novo, um carro velho, um carro lindo, o carro dos sonhos, um Talbot Solara azul cromado, vidros elétricos a cauda comprida feito um barco. Eu confundia seu logotipo com aquele das pólos Sergio Tacchini pescadas nos bancos de roupas usadas no mercado americano da cidade, mercado das pulgas, il mercato del martedì. Um carro de segunda mão com tanque a gás, era o que se tinha. Um carro de zingari que destoava em marca, cor e idade afastando-se das pretensões da classe média italiana imersa na bonança neoliberal dos anos noventa. O veículo que me fazia sonhar, tão diferente da Fiat 127 azul marinho que tivemos, ou a Escort da Ford com teto solar, denunciava, por outro lado, a marginalidade de uma família munida de documentos e à procura de uma nova vida. Migrantes da terceira geração desembarcados numa pequena cidade ao sul de Roma onde nos esperavam uma avó e uma tia.
A graça dos migrantes da terceira geração é que se sentem, de fato, cidadãos repatriados. É como se a narrativa dos pais e dos avós fizesse a ponte e preenchesse o hiato entre a vivência e o passaporte. Um desejo de ser italiano a todo custo porque é o que lhe dizem desde cedo. Latina já tinha sido Littoria, fundada pelo fascismo, literalmente emergida do pântano saneado, antes colonizada pela pobreza interna e oriunda do nordeste italiano, pois foram os vênetos os primeiros desbravadores, nos anos vinte do século vinte, daquele canto de mundo. Pequena e imaginária como saída de um quadro de De Chirico, por certo com a alma ainda enraizada no pântano, suas cores iguais se repetiam esquina após esquina preenchendo linhas duras e paralelas erguidas do papel ao concreto encarnando na urbe miúda o sonho do racionalismo italiano. Nas bocas de lobo ainda reinava o fascio, reminiscência de sua fundação, nas praças e pelas esquinas esculturas heróicas, as calçadas rarefeitas e as ruas esburacadas. Decaindo aos poucos sob a intempérie do tempo, ainda restavam as marcas da aspiração de um regime.
***
Nas lentas idas e vindas até o pequeno hospital do interior, até o interior, o meu, o dele, o da terra, fazia-me companhia a visão da doença e o horizonte da morte. Agora, mais do que nunca, ele precisava de amor, não só o meu mas todo aquele que não lhe foi dado e com ele a vida tinha falhado. Desse amor faço-me portadora, é o que anotei no bloco de notas do celular enquanto o ônibus saía da rodoviária Barra Funda em direção a São Roque numa manhã de maio de 2016. Portadora fantasmática, dei-lhe o que eu não tinha e fui o que eu não era, fiz-me presente como pude. Quando chegava me deparava com as enfermeiras cansadas das suas reclamações, olhavam-me aliviadas, desde cedo estavam avisadas que a neta apareceria. Sei que esta é só uma lembrança do futuro, é o que escrevi, escrevo para entendê-la amanhã. Sigo compreendendo pouco da morte que surge no horizonte que não se vê, mas atiro-me, agora, sobre os grãos de memória que passeiam-me à mente como caudas de peixes luminosos no aquário de um vítreo descolado. Tento conter o movimento contínuo com as mãos e arriscar um desenho, um contorno, algo que indique outra coisa, caminho de pedras, constelação. Quando criança observava os peixes no aquário montado pelo pai e quando seguiam meus dedinhos deslizando sobre o vidro sentia-me uma encantadora de peixes, desenhávamos uma coreografia em conjunto. Havia o olhar e o ruído do dedo deslizando minúsculo e com dificuldade sobre a vitrine aquática. Entre as paredes vítreas, na água, viviam lebistes, ou barrigudinhos, peixes betta, combatentes-siamês, todas caudas coloridas entre os tufos de algas e pedrinhas e um peixe-rato, cor de pedra, com sua boca imensa aderida à transparência das paredes. Dedos e caudas.
Mantive um diário itinerante enquanto cuidava do avô paterno pouco antes da sua morte e descubro-o por acaso enquanto procuro outras anotações.
***
A lua já foi muito mais próxima da terra há vinte mil anos, diz Knausgård no livro escrito para nomear o mundo à filha ainda em gestação. Terá sido enorme essa lua vista da terra naquele então. Suas crateras são povoadas pelos resquícios das erupções vulcânicas. Havia vulcões por lá, há três milhões de anos. Procuro anotações sobre minha primeira vista aérea da Islândia, sobre a aterrissagem numa paisagem lunar em outubro de 2017, mas o que encontro são as lembranças do futuro da morte do avô. “Como se diz Deus em islandês?” Não um deus todo poderoso, mas um deus mínimo, gêmeo de cada um, diria Valter Hugo Mãe, como a quebra branca das ondas sobre a areia negra, a intermitência das nuvens, a ausência de árvores, as crateras e o musgo verde que tudo encobre por aqui. Aqui era lá enquanto eu anotava apressada o que via pela janela. Como dizer deus em islandês como aquele de Leonardo Fróes, o deus que move os marimbondos a refazerem a casa sob a chuva, o grau máximo de compreensão relativa, diz o poeta.
Migrante eritreu vindo da Líbia morre um dia após a chegada do barco à cidade de Pozzallo, na Sicília. Desnutrido e doente encontraram, após a morte, dois poemas escritos em tigrino no bolso da calça. Se tenho paciência, não quer dizer que estou saciado. Tesfalidet Tesfom manteve-se vivo agarrando-se nos versos até encher os olhos com efemeridade da outra margem do Mediterrâneo. Quem é aquele que segue nas linhas das próprias palmas o traço que se conjunge à crônica? Deflúvio do tempo e do acaso. Conviver com a poeira de dentro e a tempestade de fora. Assentar a purpurina óptica até o novo giro de clepsidra.